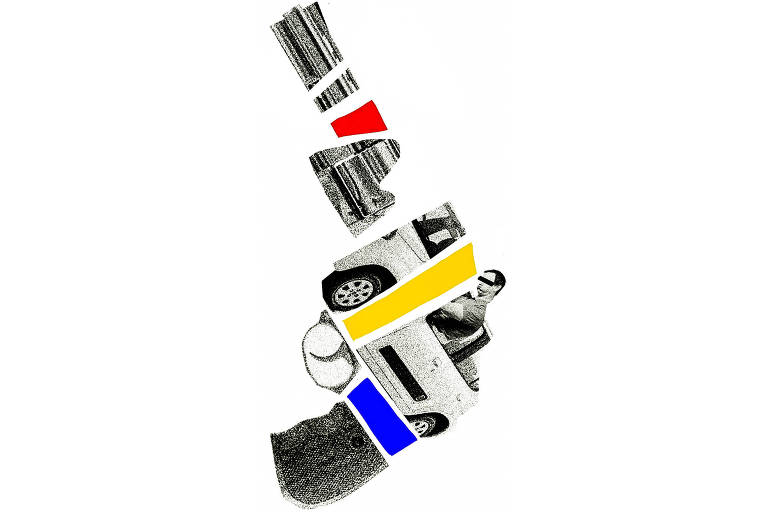Em um ataque que pretendia
neutralizar um suposto reduto de guerrilheiros vietcongues, o Exército
americano matou neste sábado (16) centenas de civis vietnamitas1, incluindo mulheres, idosos e crianças, em uma área rural do Vietnã do Sul, a cerca de 700 km ao norte de Saigon2.
1)
O massacre foi inicialmente noticiado como uma bem-sucedida batalha em
que foram mortos 128 guerrilheiros. O caso foi acobertado em diversas
instâncias do Estado americano por mais de um ano, até ser revelado em
novembro de 1969 pelo jornalista Seymour Hersh, que venceu o Prêmio
Pulitzer
2) Hoje Ho Chi Mihn, era então capital do Vietnã do Sul
O número de mortos pode chegar a 500. O massacre é o maior da história das Forças Armadas dos EUA3.
3) O recorde nunca foi quebrado
Em
muitos casos, os soldados enfileiraram os locais e os lançaram em valas
antes de matá-los. Houve tortura e estupros. Habitações foram
destruídas; animais, mortos; e poços d'água, contaminados.
O
massacre não foi maior devido à intervenção de um piloto de helicóptero
americano contra seus próprios colegas, em favor dos civis.
A
matança de três horas e meia se concentrou em My Lai, uma das partes do
vilarejo de Son My, próximo ao litoral sul-vietnamita. O ocorrido se
choca com os princípios da Convenção de Genebra, dos quais os EUA são
signatários, que exigem tratamento humano de não combatentes. O
regulamento do Exército prevê punição de comandantes de tropas
envolvidas em atrocidades.
Tamanho número de mortos em tempo tão exíguo só encontra
paralelo recente na Segunda Guerra Mundial (1939-45), na Guerra da
Coreia (1950-53) e no próprio Vietnã —mas em atos praticados até agora
pelas tropas comunistas ou, do lado lado da aliança liderada pelos EUA,
pelas forças da Coreia do Sul.
O ataque tem
potencial de comprometer o apoio da opinião pública dos Estados Unidos à
guerra no Vietnã, conflito que se arrasta desde a década passada, com
expressivo aumento da presença americana nos últimos anos em apoio ao
sul capitalista.
Ainda sem vitória definitiva no
horizonte, as tropas enviadas por Washington têm penado mais do que o
imaginado diante do Exército do Vietnã do Norte comunista e dos
guerrilheiros vietcongues no sul.
A situação se agravou a partir do último dia 30 de janeiro, quando norte-vietnamitas e vietcongues lançaram ofensiva sobre o sul4, incluindo Saigon. Inicialmente surpreendidos, os EUA e seus aliados têm recuperado terreno.
4)
Embora derrotada, a ofensiva do Tet contribuiu para que 1968 fosse o
ano mais letal da guerra para as tropas americanas e representou uma
virada do conflito junto à opinião pública dos EUA, que passou a
questionar as chances de vitória e o propósito da permanência do país na
guerra do sudeste asiático
Foi nesse contexto de busca de represália que tropas integrantes da 23ª Divisão de Infantaria do Exército dos EUA,
5a
Americal Division, chegaram a My Lai. Apelidados de "guerreiros da
selva", os membros da divisão estão sob o comando do major-general
Samuel Koster
6, em ascendência nas Forças Armadas.
5) Criada em 1942 na 2ª Guerra, foi desativada em 1971
6) Veterano
da 2ª Guerra, foi acusado de acobertar o massacre, mas caso foi
encerrado. Teve patente rebaixada e se aposentou em 1973. Morreu em 2006
O massacre teve à frente um dos subgrupos da divisão, a companhia Charlie, chefiada pelo capitão Ernest Medina7.
7)
Absolvido em corte marcial em 1971, comemorou manifestando "fé na
Justiça militar". Deixou o Exército pouco depois. Tem hoje 81 anos
No
Vietnã desde o fim do ano passado, a Charlie reunia até My Lai 38
baixas, com 5 mortos, diante de ataques surpresa dos vietcongues e de
explosão de minas.
Seus membros se frustravam
com a falta de combate direto contra um inimigo fugidio —após sua
ofensiva perder força, os guerrilheiros voltaram à tática de atacar
pontualmente e se esconder.
Além disso, o clima
de desconfiança entre americanos e civis sul-vietnamitas é mútuo. Os
primeiros veem simpatia pró-vietcongues nos segundos, que sofrem com
destruições e violências cometidas pelas tropas dos EUA.
Na véspera do ataque —e após um funeral de um militar americano
morto— o capitão Medina disse a seus subordinados que a batalha do dia
seguinte prometia ser dura, contra um inimigo bem protegido e
numericamente superior. Eram prováveis muitas baixas do lado dos EUA,
disse. Ordenou que a área de My Lai fosse vasculhada e o vilarejo,
destruído.
Segundo alguns dos comandados, Medina
teria especificado que todos os vietnamitas encontrados deveriam ser
mortos. Ele nega ter dado tal ordem e rechaça testemunhos de que
participou pessoalmente da matança.
A escolha da
área de ataque se baseou em informação incorreta do setor de
inteligência de que ali estava refugiado o 48º Batalhão da Frente de
Libertação Nacional, nome oficial dos vietcongues. Na verdade, o
batalhão estava escondido em uma região montanhosa a 65 km dali.
Em
outro erro de informação, vindo da CIA, o Exército concluíra que os
vietnamitas presentes em My Lai que não fossem vietcongues deixariam a
aldeia até as 7h em direção a um mercado. Quem ficasse era suspeito de
simpatizar com os guerrilheiros.
Todas essas premissas basearam os planos de ataque do tenente-coronel Frank Barker, superior de Medina8.
8) Morto em um queda de helicóptero em jun.1968, foi postumamente condecorado pelo Exército
Para
o soldado Charles Gruver, o objetivo estava claro: "Entrar e destruir a
coisa toda, mulheres, crianças. Eliminar, incendiar o vilarejo. Tudo
que fosse vivo. Apenas matar, exterminar"9.
9) Em depoimento à comissão de investigação, em 1970, e a reportagem do jornal Sunday Oklahoman, em 1972
CARNIFICINA
Por volta das 7h30, a artilharia iniciou o ataque. À distância, o coronel Oran Henderson, 10chefe da 11ª Brigada de Infantaria, observou sem preocupações com vítimas civis.
10) Acusado
de abandono do dever por não ter investigado o massacre, foi absolvido
em 1971. Em depoimento, disse entender que My Lai era um complexo
altamente protegido para abrigar vietcongues, não havendo limites para
efeitos colaterais. Aposentou-se em 1974. Morreu em 1998
Há
relatos esparsos de tiros vietnamitas disparados durante o desembarque
da infantaria, mas no geral a chegada dos soldados foi tranquila, ao
contrário do esperado. Testemunhas locais disseram que os vietcongues
que estavam no vilarejo foram embora antes do ataque.
Ao
chegar, os americanos notaram que não se confirmara a previsão de que
os civis estariam ausentes. Muitos tomavam o desjejum. Soldados miraram
então em quem estivesse ali, mesmo sem perfil militar. Famílias foram
executadas ao deixar esconderijos ou explodidas dentro deles.
"Foi uma carnificina completa", relatou o fotógrafo do Exército Ronald Haeberle11, que registrou o ataque. Também acompanhou a ação o repórter oficial Jay Roberts.
11)
Entregou as fotos ao jornal The Plain Dealer, que, contra pressões do
governo, publicou-as em 20.nov.1969. Mais registros foram publicados na
revista Life. Investigado por acobertamento, disse não ter repassado as
imagens a superiores por temor de que fossem destruídas
Uma
mulher foi metralhada com um bebê no colo. Meninos foram mortos ao pedir
comida aos soldados. Um militar tentou forçar uma mulher a fazer sexo
oral enquanto apontava uma arma na cabeça do filho de quatro anos dela.
"Foram tantas pessoas mortas que é difícil lembrar como exatamente algumas delas morreram", contou o soldado Harry Stanley.
Papel crucial na matança teve o tenente William Calley, 12à frente do mais brutal pelotão a adentrar My Lai.
12)
Na única condenação pelo massacre, foi sentenciado em 1971 a prisão
perpétua pelo assassinato de 22 civis vietnamitas. Sob prisão
domiciliar, ganhou liberdade condicional em 1974. Parte da opinião
pública o viu como bode expiatório do episódio. Em 2009, desculpou-se
pela primeira vez: “Não há um dia em que eu não sinta remorso pelo o que
aconteceu naquele dia em My Lai”. Tem hoje 74 anos
Subordinados
relataram as ordens de Calley para que civis, inclusive crianças,
fossem mortos, tratando com agressividade os soldados que resistiram a
participar.
"Se ficarmos no Vietnã mais dez
anos, se seu filho for morto por esses bebês, vocês vão chorar para mim:
'Por que você não matou esses bebês aquele dia?'", disse Calley.
"Pessoalmente, eu não matei nenhum vietnamita. Eu representava os
Estados Unidos."
Um dos soldados, Gary
Roschevitz, sobre quem recaem alguns dos relatos mais brutais, ordenou
que mulheres tirassem as roupas antes de matá-las com um lança-granadas.
Em 27 de novembro de 1969,
Folha publicou reportagem após massacre vir à tona.
SALVAMENTO
Sobrevoando a área depois das 9h, o piloto de helicóptero Hugh Thompson13 observou
que algumas das pessoas lançadas à vala estavam vivas. Também viu
soldados caminhando tranquilamente e civis sendo executados.
13)
Sua denúncia sobre o massacre foi inicialmente considerada falsa pelo
coronel Henderson. Passou a ser deslocado para missões perigosas e sem
apoio até seu helicóptero ser derrubado em um ataque e ele sofrer
fraturas. Seus testemunhos contra colegas militares lhe renderam
inimizades. Aposentou-se do Exército em 1983. Em 1998, foi condecorado
por ato de bravura. Morreu em 2006
Contou ter pensado no que
ouviu sobre os assassinatos nazistas e que não era possível que
americanos estivessem fazendo o mesmo. "Deveríamos ser os mocinhos."
Pousou
o helicóptero e cobrou satisfações de Calley, que desdenhou de sua
preocupação com os civis. Relatou via rádio o que ocorria.
Ao
ver um grupo em perigo, pousou sua aeronave entre os vietnamitas e os
soldados. Com sua equipe de armas em punho, escoltou civis para uma área
segura.
O massacre terminou após as 11h, quando o capitão Medina anunciou uma pausa para o almoço.
Só
três combatentes vietnamitas foram mortos, ainda no ataque inicial da
artilharia. Três armas foram apreendidas. Do lado americano, um soldado
se feriu ao tentar limpar uma arma. Deu um tiro no pé.